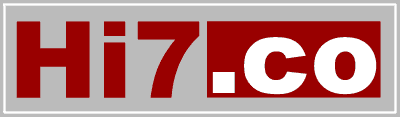Entrevista Marina Lencastre-A senhora que descobriu a origem da bondade (obrigatório ler até ao fim)

| A senhora que descobriu a origem da bondade | |||
Marina Lencastre tem as suas raízes em Cabeceiras de Basto. Viveu na Bélgica durante a sua licenciatura e doutoramento e em 1986 escolheu a área do Porto para viver e trabalhar. É psicóloga e passou pela educação ambiental nos anos 90. Não foi uma passagem fugaz e muito menos inusitada. Pelo contrário, a entrada na área foi natural no percurso da sua carreira académica e com ela abriram-se novas perspectivas. A educação ambiental conquistou até hoje uma rigorosa investigadora com um certo tom crítico e Marina Lencastre ganhou coragem para dar o passo seguinte - interligar o ambiente e a psicologia em nome do “bem-estar humano”. | |||
Qual é o seu passatempo favorito?
Ler, fazer caminhadas no campo. Na primavera gosto de observar as flores, levar o meu cão a passear. Também gosto muito de ler, embora ultimamente tenha lido pouca ficção. Tornei-me muito exigente com o uso do meu tempo e leio principalmente livros relacionados com a minha profissão. Os últimos livros que li foram “The Origins of Human Nature” sobre a relação entre genes, desenvolvimento e cultura, e “Primates and Philosophers” de Frans De Waal. Este primatólogo conduziu um estudo científico sobre questões como a empatia social e a reconciliação entre os primatas. Sabia que, por exemplo, depois de uma luta os chimpanzés têm uma tendência compulsiva para a reconciliação?
Isso também acontece nos humanos?
Um dos problemas da ética social e ambiental contemporânea tem a ver com os contextos expandidos. É preciso criar uma ética global. Temos tendência para nos vincularmos aos que são próximos, pelo que a reconciliação com os mais distantes é mais difícil. A propósito disso, escrevi recentemente um artigo que se chama “A origem da bondade” que vai ser publicado num livro internacional sobre educação ambiental. Analisei qual era a origem filogenética das tendências benevolentes no humano, que tem uma raiz nos outros animais. E, ao contrário do que se pensava até há pouco tempo, verifica-se que a bondade é tão inata quanto a agressão. Acreditava-se que a bondade era fruto da educação, mas não é assim. É inata. O que é preciso é criar os contextos nos quais a bondade se possa exprimir sem medo.
Confesse-nos uma coisa que gosta?
Gosto muito de estar com os meus amigos, idealmente em espaços naturais.
E uma coisa que não gosta nada?
Desde pequena que sou muito sensível ao maltrato a seres mais frágeis, sejam eles pessoas ou animais. Talvez até essa tenha sido a razão pela qual mais tarde vim a “sentir-me em casa” na educação ambiental. Actualmente existe uma tal falta de sensibilidade pela natureza, pelo que está ao nosso dispor, é gratuito e é frágil…
Se pudesse ser um animal, qual seria?
(risos) Uma leoa a viver na savana! Quando era miúda vi um filme - “Born Free” - que era a história de uma leoa que viveu com humanos durante muitos anos e que depois voltou à savana, mas não esqueceu a sua família humana. A liberdade daquele animal tocou -me imenso.
Se tivesse a lâmpada de Aladino, o que lhe pediria?
Principalmente a desaceleração dos ritmos. Hoje em dia vivemos num sistema demasiado acelerado, que não nos dá tempo para apreciar as belezas da natureza (que ainda por cima são gratuitas!), e o consumo faz parte desse frenesim. Em termos espirituais a humanidade está órfã e temos que abrandar para restabelecer as ligações.
Fiz a licenciatura e o doutoramento em psicologia na Universidade Católica de Louvain, na Bélgica. Enveredei logo pela etologia e o meu doutoramento foi sobre a possibilidade de aplicar os métodos da biologia do comportamento animal ao ser humano e à cultura. Desde cedo percebi que era muito importante analisar o comportamento humano à luz da biologia evolutiva. Por exemplo, a hipótese da biofilia diz que, pelo facto de o ser humano se ter desenvolvido, como espécie, num contexto natural tem influência na preferência por esse tipo de ambiente, por plantas e animais …saber isto pode ter importância para a educação ambiental. Vim para Portugal de vez em 1986 e comecei a dar aulas na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto. Estive no departamento de psicologia e mais tarde nas ciências da educação. E foi nesse contexto que comecei a trabalhar em educação ambiental.
Sentiu-se confortável a trabalhar numa área que não era propriamente a sua?
Achei que estava bem posicionada pois tinha os conhecimentos e sensibilidade para articular as humanidades com as ciências na natureza. Mas rapidamente me apercebi da complexidade desta área: as questões ambientais envolvem a economia, a política, os saberes locais, muitos aspectos da construção do saber, que tornavam a intervenção extremamente difícil. Comecei a interessar-me por duas vertentes específicas da educação ambiental: a ética ambiental e os valores (para que valores educamos?) e a epistemologia (que tipo de verdade científica é gerada pelos problemas ambientais aplicados?). As questões éticas estão-me muito próximas. Gosto muito de antropologia ambiental, isto é, como é que os diferentes povos concebem as suas relações com a natureza. Há certos povos, por exemplo na Amazónia ou em África, que têm uma visão animista da natureza. Vêm espírito na floresta, na água…nós somos naturalistas, separamos o corpo do espírito, e isso tem consequências na nossa maneira de pensar as relações da natureza e da cultura.
E actualmente, além da investigação, o que está a fazer?
Há seis anos saí das ciências da educação e voltei à psicologia para realizar um sonho antigo, que era ser psicoterapeuta. Neste momento, além da psicoterapia que faço na Escola Superior de Educação do Porto, estou a dar aulas na Universidade Católica Portuguesa (Porto) e na Universidade Fernando Pessoa.
Toca muitas violas...
Sim, isso é essencial. Esta liberdade de pensamento e de acção é muito importante e seria muito difícil para mim estar ligada a uma só área. Há ligações entre ecologia e psicologia clínica e sinto-me confortável a pensá-las. Hoje em dia explora-se a psicopatologia evolutiva a partir de resultados da etologia, da psicologia evolutiva, da neuropsicologia…. E eu entro por essa área, são as ligações que me interessam e o seu impacto na clínica. Por exemplo, há evidências de que as alterações ambientais nos sistemas humanizados podem conduzir a algumas perturbações psicológicas. E isso importa à educação ambiental.
Hoje em dia acha que se deve falar de educação ambiental, educação para a sustentabilidade ou simplesmente educação?
Nesta altura deve-se falar de educação para a sustentabilidade porque a sustentabilidade ainda não está suficientemente presente para que se possa fazer a economia da palavra. Por outro lado, a educação ambiental é o termo original mas está conotada na cabeça das pessoas com a ideia de espaços naturais. O termo sustentabilidade remete-nos para os limites dos ecossistemas mas também para as componentes políticas, técnicas, económicas e sociais…
Mas acha que as pessoas sabem o que é a sustentabilidade?
A sustentabilidade já entrou no discurso comum, é verdade que nem sempre da melhor forma, mas de facto as pessoas ainda não sabem bem o que é. Creio que para ajudar a tornar mais claro há sempre que aplicar o conceito a um contexto concreto, por exemplo ao consumo…
Durante os anos em que trabalhou mais profundamente na área da educação para a sustentabilidade (já adoptamos a terminologia) desenvolveu um projecto de transversalização curricular extremamente interessante, mas que ainda não teve oportunidade de sair da gaveta?
Sim, o projecto Terra. Entre o ano 2000 e 2003 trabalhamos o Terra I, para o 1.º ciclo de ensino básico, analisando como poderiam os professores abordar as questões ambientais sem abandonar o currículo. Envolvemos professores, alunos, comunidades locais, algumas instituições, como por exemplo a Câmara Municipal do Porto, e obtivemos um produto final deste projecto de investigação – um conjunto de materiais pedagógicos devidamente testados. A partir de 2003 obtivemos um financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia para fazer a transversalização de temas ambientais para o 2.º e 3.º ciclos de ensino básico, principalmente para os 6.º e 7.º anos de escolaridade. Trabalhamos com professores de distintas disciplinas de escolas do grande Porto – uma no interior e outra no litoral. A ideia era fazer uma leitura ambiental do currículo das várias disciplinas e ver com os professores e alunos o que surgia da leitura. O mote do projecto era “o lugar” e através dele podia abordar-se o currículo e as literacias ambientais e competências envolvidas (compreensão, acção, intervenção).
Esse projecto faz parte do Plano de Acção do “Futuro Sustentável” e foi adoptado pelo CRE_PORTO como um produto a editar no âmbito da actividade dos parceiros?
Mas a falta de dinheiro tem sido uma limitação. Neste momento o projecto teria que ser revisto, dado que já tem alguns anos e desde então algumas coisas mudaram. Mesmo ao nível do suporte físico que inicialmente estava definido… Hoje em dia faria sentido adaptar os conteúdos para uma plataforma na internet.
Desencantou-se com a educação para a sustentabilidade?
Bem, de algum modo, mas principalmente apercebi-me que era uma tarefa imensa para poucos resultados. Há demasiados constrangimentos políticos, económicos e técnicos que impedem que os objectivos educativos sejam plenamente cumpridos. Também me desiludiu a falta de rigor científico na área. Há muito idealismo na educação para a sustentabilidade, as pessoas querem operar mudanças, mas é impossível passar à prática porque o contexto não é favorável. Quem trabalha nesta área muitas vezes está a lutar contra o Adamastor. Mas, apesar de tudo, sou optimista.
Qual é a sua opinião sobre o trabalho que se tem levado a cabo nesta área?
Há sinais de mudança e o que está a ser feito é o que tem que ser feito: promover a consciência ambiental a partir de diferentes vias de entrada. Confesso que hoje em dia sou surpreendida por pessoas que acharia completamente imunes às questões ambientais, mas que reciclam, reduziram no consumo, compram produtos locais… Mas acho que é importante integrar no currículo escolar as preocupações sócio-ambientais e deixar de exigir dos professores um certo activismo, pois acabam por estar a remar contra a maré. Não tenho dúvidas que a “ambientalização” curricular ainda não é suficiente. Tenho uma aluna de mestrado que está a fazer um trabalho nesta área e verificou que, por exemplo, a biodiversidade está praticamente ausente e os animais aparecem como recursos e não como organismos em si mesmos.
Para terminar poderia dar-nos algumas sugestões para melhorar os projectos de educação para a sustentabilidade?
Se neste momento fizesse um projecto investiria em três áreas chave. Primeiro: na compreensão do que é a ciência, e na sua aplicação a aspectos sociais e ambientais concretos. Segundo: na criação de condições educativas nas escolas para experimentar o que é a democracia deliberativa, por exemplo adaptar a metodologia de “júris de cidadãos” ou implementar a Agenda 21 ao nível da escola. Terceiro: educar para a sensibilidade e beleza da natureza, para a vertente espiritual. E estas três ideias podem ser integradas perfeitamente no mesmo projecto, só tem que se encontrar a metodologia e equilíbrio certos.

- Entrevista Na 37ª Edição Da Educação Ambiental Em Ação
http://www.revistaea.org/artigo.php?idartigo=1052&class=08É com muita alegria que apresento a entrevistada desta edição, a Érica Sena, que é formada em Ciências Biológicas, em Gestão Ambiental e especialista em Tecnologias Ambientais (...) ...
- Muito Bem Goias!!
Foi aprovada no estado de Goiás, no dia 19 de junho, projeto de lei do Governo que dispõe sobre a Educação em Meio Ambiente, instituindo diretrizes para a Política Estadual de Educação Ambiental, programas e projetos dentro do Estado, e acompanhamento...
- Escola Na Natureza
Por Henrique Pereira dos Santos Declaração de interesses: este projecto está neste momento sob a minha responsabilidade. O ICNB tem um projecto que irá terminar a sua fase piloto neste ano e entrará num ano zero de desenvolvimento no próximo ano...
- Uma Revista E Um E-livro
1. Revista Educação Ambiental em Acção (Brasil) A idéia de uma revista eletrônica de Educação Ambiental partiu de membros do Grupo de Educação Ambiental da Internet/GEAI que se integram a partir de uma "lista de discussão" sobre Educação...
- Sugestão Do Dia Mundial Da Criança - Horta Viva
Neste Dia Mundial da Criança desejaria que Portugal não figurasse entre os principais países em que as crianças sofrem de maus tratos, em que continuam a ser abusadas sexualmente, em que há um elevado número de crianças em instituições, aguardando...